PFM: PODE FAZER MELHOR
Recomendável a matéria de capa da Época Negócios do mês de Junho. É um bom levantamento de referências, mais uma exaltação aos erros (parece que é a última moda em Paris!). Só não aceito muito bem o argumento em relação ao Novo Uno. Na minha concepção, uma sacada ótima, mas muito mais baseada no MINI, esse sim genial.
De qualquer maneira, pensa mais e aproveite.

Pense pequeno
Quer atingir excelentes resultados? Faça como Microsoft, Google, HP, Doutores da Alegria, Fiat, General Electric…
David Cohen e Robson Viturino


Até hoje há controvérsia se a compra do YouTube foi um bom negócio para o Google. O site de vídeos custou US$ 1,65 bilhão , em 2006. Também se discute se a compra do DoubleClick, um site de serviços de publicidade na internet (em 2007, por US$ 3 bilhões ), justificou o investimento. Mas ninguém que já tenha visto um celular duvida que um dos melhores negócios do Google, das quase 100 aquisições que fez até hoje, foi a compra de uma start up minúscula chamada Android.
O valor que o Google pagou pelo Android, em 2005, foi tão baixo que escapou da exigência de ser revelado publicamente. Seis anos depois, a tecnologia incipiente que motivou a compra está no centro da unidade de negócios de plataformas para celulares e tablets, que vale US$ 2 bilhões – e continua crescendo a uma velocidade estonteante.
O exemplo do Google é muito mais a norma que a exceção. No ano passado, as empresas do mundo inteiro gastaram US$ 2,4 trilhões comprando umas às outras. É um valor mais ou menos equivalente ao PIB do Brasil. Dinheiro à beça, empatado por gente que quer ganhar mercado, desenvolver setores, criar riqueza. Enfim, gente que pensa grande.
Nem sempre, porém, os negócios dão certo. “Nem sempre” é um modo polido de falar. Dependendo do analista que você consulte, a taxa de insucesso das fusões de empresas varia entre 53% (estimativa da KPMG) e 74% (Heidrick & Struggles) – seja pela demora em atingir os lucros esperados, por problemas com gestão de pessoas ou pela perda de valor para os acionistas. A premissa das grandes fusões é que dois mais dois é igual a cinco – que os ganhos de eficiência, escala e sinergia trarão um resultado maior do que a simples soma dos valores dos envolvidos. O problema é que, para uma grande parte dos negócios, dois mais dois não passa de três.
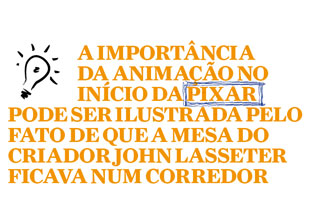
Que tal então tentar dois mais 0,1? Esta é a sugestão de Andrew Waldeck, sócio da consultoria Innosight, fundada pelo professor de Harvard Clayton Christensen (autor de O Dilema da Inovação). Em um artigo publicado em abril pela newsletter Strategy & Innovation, ele mostra como pequenos investimentos podem levar a grandes recompensas – às vezes, salvar a empresa.
Foi o caso da rede de eletrodomésticos Best Buy. Em 2002, ela comprou uma empresa de apenas 50 funcionários chamada Geek Squad (esquadrão geek), cujo negócio era enviar técnicos às casas dos clientes para remover vírus de computador, criar redes domésticas, instalar home theaters. Hoje, esse serviço gera US$ 2 bilhões por ano para a Best Buy, diz Waldeck. É tão lucrativo que inspirou a criação de outras linhas de negócio orientadas para o serviço. E essa mudança cultural é uma das razões para a Best Buy ter sobrevivido à concorrência das ofertas online, enquanto sua principal rival, a Circuit City, afundava (leia nota da seção Inteligência).
Líderes da tecnologia como IBM, Cisco, Oracle, HP, Yahoo!, Google e Microsoft preferem comprar start ups, diz Waldeck. “Vários desses gigantes aprenderam da maneira mais difícil quão arriscados são os grandes negócios.” Não quer dizer que não os façam mais. A Microsof acaba de comprar o Skype por US$ 8,5 bilhões. Alguém acha que este negócio será melhor que a compra da Forethought, por apenas US$ 14 milhões, em 1987? Da Forethought veio o PowerPoint.
É claro que nem todas as pequenas apostas dão esse enorme retorno. Ao contrário. A taxa de sucessos com pequenas iniciativas é ainda menor – bem menor – que a de grandes tacadas. Mas, quando você perde uma pequena aposta, não sente remorso. Era quase uma brincadeira. Se a soma de dois e 0,1 não der 4, nem 3, você só perdeu 0,1.
Fazer apostas que você pode se dar ao luxo de perder é um dos conceitos fundamentais do livro Little Bets – How Breakthrough Ideas Emerge from Small Discoveries (“Pequenas apostas – como ideias inovadoras emergem de pequenas descobertas”), do escritor e consultor de inovação Peter Sims, lançado em abril nos Estados Unidos. Entre outros casos, ele narra como Steve Jobs colheu um de seus maiores sucessos, o estúdio de animação Pixar.
Quando comprou a companhia, em 1986, Jobs acabara de ser enxotado da Apple. Estava em baixa. A Pixar tinha nascido dentro da Lucasfilm, do cineasta George Lucas, mas não como produtora de filmes. Seu principal produto era um computador que permitia ver imagens de exames de ressonância magnética. No entanto, não havia vendido nenhuma máquina. Quando Lucas enfrentou um custoso divórcio, pôs a empresa à venda. Pediu US$ 30 milhões. Jobs levou-a por US$ 5 milhões.
A Pixar já dominava, então, uma tecnologia de produzir imagens digitais avançada para a época. Mas a importância relativa da animação na empresa pode ser ilustrada pelo fato de que John Lasseter, o artista que viera da Disney e é hoje a alma criativa da Pixar, nem sala tinha. Sua mesa ficava num corredor. O presidente da Pixar, Ed Catmull, sonhava em produzir filmes, mas não lhe davam atenção – o processo digital era caro demais, e ninguém jamais havia feito um filme inteiro assim. Para conseguir contratar Lasseter, ele convenceu Lucas de que a Pixar poderia fazer pequenos filmes animados para demonstrar suas máquinas para os clientes.
Aos poucos, Jobs foi dando sinal verde para projetos maiores (tecnicamente mais elaborados e com histórias mais bem contadas). Eram apostas baratas. Lasseter, a maior estrela da divisão, ganhava apenas US$ 140 mil por ano. O primeiro curta da Pixar, Luxo Jr. (da lâmpada que até hoje simboliza a empresa), recebeu uma ovação de 6 mil pessoas numa feira de computação gráfica. Jobs permitiu que eles fizessem outro, no ano seguinte – também ovacionado pela plateia amante de tecnologia. Apesar disso, a divisão não dava dinheiro, e o negócio principal da Pixar (hardware) não decolava. Jobs ficou relutante, mas aprovou a produção de um terceiro filme, Tin Toy (“Boneco de lata”). O filme, de cinco minutos, ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação de 1988. A partir daí, Jobs deu o sinal verde com mais facilidade, e foi gradualmente dirigindo a empresa para o setor de animação.
O conceito de pequenas apostas traz embutida a noção de que a inovação se dá por tentativa e erro, não por inspiração divina. Ele é, em grande medida, oposto ao mito clássico da genialidade. De acordo com Robert Root-Bernstein, professor de fisiologia da Universidade de Michigan e pesquisador do tema criatividade, o mito diz mais ou menos o seguinte: algumas pessoas nasceram com um talento tão tremendo que a obra sai pronta de sua cabeça, como mágica, de uma vez só. O exemplo mais citado é o compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Pelo capricho de suas partituras, supõe-se que ele escrevesse suas sinfonias de uma única vez, num ato de inspiração. “Como contraexemplo ao mito de Mozart, mostro aos meus alunos de criatividade o caso de [Ludwig van] Beethoven”, diz Root-Bernstein, em um artigo na revista Psychology Today.

A diferença entre os dois compositores está bem descrita no livro A Vida dos Grandes Compositores, de Harold Schonberg: “Beethoven trabalhava lentamente. Enquanto Mozart gastava dias ou semanas em uma única obra, Beethoven gastava meses ou anos. Mozart compôs suas três grandes sinfonias em seis semanas, durante o verão de 1788. Beethoven levou pelo menos três anos, aprimorando e reescrevendo, antes de achar que seu Opus 1, um conjunto de três trios para piano, estava pronto para publicação. Ele trazia suas ideias na cabeça por um longo tempo e depois batalhava para colocá-las no papel. Seus rascunhos revelam que ele refinava e refinava novamente, mudando nota a nota cada fraseado até que adquirisse a qualidade que hoje reconhecemos como beethoviana. O tema do movimento lento da Quinta Sinfonia deve ter passado por ao menos uma dúzia de transformações antes que Beethoven lhe desse a forma que conhecemos”.
Para o professor David Galenson, da Universidade de Chicago, Mozart e Beethoven representam dois tipos de inovador: o conceitual e o experimental. O conceitual, como Mozart, é o inspirado, que nasceu assim e provavelmente vai se revelar cedo. O experimental é persistente, disposto a aceitar fracassos. É como Thomas Edison, fundador da General Electric: “Se eu achei 10 mil modos de algo não funcionar, não fracassei. Não me desencorajo, porque sei que cada tentativa errada é mais um passo para a frente”, dizia. Mesmo alguns gênios, cujas descobertas nos parecem ter surgido num estalo, talvez não sejam assim. Como disse um dos maiores deles, o físico Albert Einstein, “o segredo da criatividade é saber esconder as suas fontes”. O que todos consideram um grande salto é um acúmulo de pequenas descobertas.
A vantagem do tipo experimental é que ele está ao alcance de qualquer pessoa – ou empresa. O inovador, de acordo com o livro de Sims, tem três características: ele faz pequenas apostas; em vez de se abater, encara seus erros como aprendizado; e sabe que as boas ideias vêm aos pedacinhos, de fontes variadas. A seguir, alguns exemplos dessas características.

1) Pequenas apostas
“Pequenas apostas são ações concretas para descobrir, testar e desenvolver ideias alcançáveis e factíveis. Começam com possibilidades criativas que são trabalhadas e refinadas, e são particularmente valiosas em ambientes de incerteza, para criar algo novo ou para resolver problemas abertos”, diz Sims. Ele cita o exemplo do comediante americano Chris Rock. Para preparar seus shows, Rock costuma ir a algum bar de Nova Jersey, perto de onde mora. Sem aviso prévio, senta na frente de plateias de cerca de 50 pessoas, carregando um bloco amarelo em que rabiscou algumas ideias. Não faz um de seus shows tradicionais, cheios de energia e movimentação. Em vez disso, conversa com a audiência de modo informal, e vai anotando as reações das pessoas a suas piadas, como pistas para saber se há nelas alguma boa ideia a ser desenvolvida. A maioria das piadas é recebida com frieza. Alguns espectadores o escutam com impaciência. Mesmo quando acerta, não recebe nenhuma ovação. Ele percebe que está no caminho porque algum pequeno grupo reagiu com simpatia. Para ter uma performance acabada, Rock tenta centenas de ideias preliminares.
Ideias inacabadas têm ainda uma outra vantagem. Você não está preso a elas. “O problema de mostrar algo aos clientes quando está quase pronto é que as pessoas não querem dar palpites negativos porque sentem que você trabalhou muito naquilo”, diz Chris Thoen, um veterano diretor de inovação da Procter & Gamble, citado por Sims. “Se você mostra algo nitidamente em construção, elas se sentem mais à vontade para contribuir.” Essa cultura do protótipo – em oposição à prática do planejamento e da minimização de erros – foi implementada na P&G pelo executivo-chefe A.G. Lafley. Em seu comando, de 2000 a 2009, os lucros da companhia triplicaram, para mais de US$ 10 bilhões, com uma taxa de crescimento orgânico de 6% ao ano.
Nas empresas, a cultura dos protótipos assume diversas formas. A HP, em 1971, tinha um catálogo com 1,6 mil produtos – nenhum com vendas de mais de dez unidades por dia. Bill Hewlett (o H, da HP) estimava que só seis de cada 100 novos produtos se tornariam sucesso.
Na 37Signals, uma empresa que produz software para ajudar na comunicação e tomada de decisão, a regra é usar apenas três pessoas para a versão 1.0 de qualquer projeto. O motivo? Eles acreditam que pessoas talentosas prosperam em situações de restrição. A falta de gente implica que você terá de fazer escolhas difíceis logo no início do processo. Também significa que o time estará unido, no mesmo compasso. Se a versão 1.0 não der em nada, a empresa perdeu muito menos energia e recursos do que se tivesse submetido o projeto ao processo normal de análises, aprovações e checagens. Se ela for bem-sucedida, aí sim ganhará mais gente, e entrará num processo formal de desenvolvimento.
Lógica semelhante guiou o desenvolvimento de dois grandes sucessos brasileiros – a linha de frigobares da Brastemp e o campeão de vendas de carros EcoSport.
2) Mentalidade empreendedora
Empreendedores (e executivos) bem-sucedidos pensam em aprendizado do mesmo modo como a maioria das pessoas pensa em fracasso, diz Sims. No ensaio What Makes Entrepreneurs Entrepreneurial (“O que faz os empreendedores empreenderem”), a professora Saras Sarasvathy, da Escola de Negócios Darden, da Universidade de Virgínia (EUA), afirma que empreendedores e administradores usam métodos completamente diferentes. Os administradores planejam. Os empreendedores fazem e refazem, reformatam seus projetos pela ação e interação com os outros. Não se trata de experimentar um monte de coisas e ver o que dá certo. As pessoas criativas mais bem-sucedidas são rigorosas, analíticas, estratégicas e pragmáticas.
Elas têm o que a psicóloga Carol Dweck, da Universidade Stanford, chama de mentalidade de crescimento – acreditam que os resultados são fruto do esforço, mais que da habilidade natural. Por isso, quando não conseguem algo, em vez de perder a autoestima, tentam com mais afinco. (Em uma entrevista bem-humorada à revista Vanity Fair antes de concorrer ao governo da Califórnia, em 2003, o ator Arnold Schwarzenegger disse que seu lema era: “Se você não conseguir de primeira, tente, tente, tente de novo. Depois chame o dublê”.) Mesmo quando são bem-sucedidas, as pessoas com essa mentalidade acham que ainda podem melhorar – como o goleiro Rogério Ceni, do São Paulo (leia nas próximas páginas).
No mundo das empresas, o paulista Romero Rodrigues é o caso típico de quem persistiu até encontrar o caminho do sucesso – e então persistiu mais um pouco, porque encontrar o caminho não é a mesma coisa que trilhá-lo (leia a seguir).
A mesma mentalidade de crescimento teve Wellington Nogueira, ao criar a ONG Doutores da Alegria, que leva conforto a crianças internadas em hospitais. Ator, Nogueira morou nos Estados Unidos, onde trabalhou numa organização semelhante, a Clown Care Unity. Voltou ao Brasil para visitar o pai, então hospitalizado no Instituto do Coração (Incor), do Hospital das Clínicas de São Paulo. O pai já marcara, sem que ele soubesse, uma apresentação sua para as crianças.
Depois dessa experiência, Nogueira bateu à porta dos maiores hospitais de São Paulo. Ninguém quis saber. Por meio da indicação de um médico que havia tratado seu pai, ele chegou ao centro médico Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Jabaquara, em São Paulo. O hospital estava passando por uma reestruturação e buscava uma nova proposta para o trabalho com crianças e adolescentes. “Eles foram os primeiros a acreditar na proposta.” A reunião, que deveria durar uma hora, estendeu-se por mais três.
Cerca de um ano mais tarde, em 1992, Nogueira decidiu ampliar sua atuação com apresentações para crianças soropositivas. A partir de uma indicação feita por uma médica do Nossa Sra. de Lourdes, abriu mais uma frente – desta vez, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Com duas referências, achou que a entrada nos centros médicos seria simples. Enganou-se. “Era a Santa Inquisição do palhaço”, diz. Enfrentava intermináveis reuniões com administradores que queriam saber por que deveriam abrir os leitos infantis para um clown.
Bem aos poucos, ele ganhou a confiança dos hospitais – e de patrocinadores. Hoje, a ONG conta 800 mil visitas dos seus 50 “besteirologistas”, que atendem crianças em 13 hospitais e fazem apresentações para equipes hospitalares e empresas, além de treinar remotamente palhaços de várias partes do país.

3) Coleta de ideias
Num estudo de seis anos sobre como trabalham os executivos mais criativos, os professores Jeffrey Dyer, da Universidade Brigham Young, de Utah, e Hal Gregersen, do Insead (em Fontainebleau, França), pesquisaram mais de 3 mil executivos e entrevistaram 500 pessoas que tinham aberto empresas ou inventado produtos. Também analisaram os hábitos de 25 inovadores exemplares, como Steve Jobs, Jeff Bezos e A.G. Lafley. Concluíram que os inovadores não apenas experimentam mais. Eles têm um padrão de questionar mais, e se conectam com pessoas de várias origens.
Essa mentalidade era um dos pontos fortes do diplomata carioca Sérgio Vieira de Mello, funcionário de carreira da ONU morto em 2003, num atentado a bomba no Iraque. Ela é essencial em trabalhos de marketing, como mostra um recente caso de sucesso da Fiat. Em fevereiro, o novo Uno quebrou uma liderança de 35 meses da Volkswagen, com seu Gol, na lista de carros mais vendidos do país. Das concessionárias da Fiat saíram 21.470 unidades do carro. A conquista se deve, em parte, ao trabalho feito na criação do carro.
A Fiat teve o auxílio de uma agência de pesquisas especializada em tendências de consumo, a Box 1824. Em vez do tradicional trabalho com grupos de consumidores da classe média, a agência gaúcha fez 760 entrevistas com aficionados e especialistas em carro. Era como se os entrevistados, um grupo de influenciadores de opinião no quesito carro, ajudassem a criar o Uno. Durante três semanas, a equipe de 20 pesquisadores mandava as informações coletadas nas ruas para dois designers enviados para o centro de produção da montadora, em Betim (MG). “Nós passávamos o dia fazendo pesquisa nas ruas e eles passavam a madrugada desenhando”, diz Gabriel Milanez, coordenador do projeto. Dessa imersão no mundo dos apaixonados por carro, a Box 1824 extraiu uma série de insights, como as linhas de design que lembram um quadrado arredondado e a ideia de permitir que os consumidores “montassem” o carro com adesivos e outros acessórios temáticos.
Todas essas histórias de sucesso com pequenos passos não significam que a gente não deva sonhar alto, ter grandes ambições. Como disse o pintor e escultor Michelangelo: “O maior perigo para a maioria de nós não é que nossa meta seja alta demais e nós por pouco não a alcancemos, mas que seja baixa demais e nós a atinjamos”. Ou o escritor Antoine de Saint-Exupéry: “Se você quer construir um barco, não junte as pessoas para coletar madeira e não lhes distribua tarefas. Ensine-as a ansiar pela infinita imensidão do mar”. Sem sonhos, sem um propósito, as metas são piores que inatingíveis – elas não fazem sentido. Mas, para continuar no terreno das citações, aí vai mais uma de Thomas Edison: “Visão sem execução é alucinação”.
No livro Bom Chefe, Mau Chefe, lançado no final do ano passado (e este ano no Brasil), o professor de gestão Robert Sutton, da Universidade Stanford, afirma que a maioria dos executivos acredita que deve “esticar a corda” para inspirar sua equipe. “Várias pesquisas afirmam que esse tipo de meta é uma marca dos grandes líderes”, diz Sutton. Recentemente, o consultor Jim Collins criou o termo Bhag, um acrônimo em inglês para “metas grandes, difíceis e ousadas”. Sutton afirma que não há como negar a importância de objetivos ambiciosos. “Mas minha opinião é que os melhores chefes não gastam muito tempo pensando nem falando neles.” E dá três fortes motivos para isso.
O primeiro: grandes metas são estrategicamente óbvias. É claro que a Petrobras quer extrair várias toneladas de óleo dos poços de pré-sal e o Vasco da Gama quer vencer o Campeonato Brasileiro. “As metas podem ser nobres, e são importantes, mas dificilmente levam as pessoas a ações que elas não soubessem que tinham de realizar”, diz Sutton.
O segundo: elas são cruas demais para servir como orientação. Dizer que uma divisão precisa dobrar suas vendas nos próximos cinco anos não informa o que as pessoas devem fazer de diferente para atingir esse objetivo. “Um bom chefe mostra o caminho para a meta, e trabalha ao lado da equipe para quebrá-la em objetivos menores, que permitam enxergar as ações necessárias para atingi-los.”
Por último: elas são assustadoras. Num trabalho clássico, escrito em 1984, o psicólogo americano Karl Weick, da Universidade de Michigan, afirmou que a escala gigantesca com que são concebidos os problemas sociais impede soluções inovadoras, porque excede o limite de nossa racionalidade e cria níveis maiores de ansiedade. “As pessoas geralmente definem os problemas sociais de uma forma que ultrapassa a sua capacidade de fazer qualquer coisa sobre eles”, escreveu. O artigo, intitulado Small Wins (“Pequenas vitórias”), propõe “uma série de resultados concretos, completos, de moderada importância, que construam um caminho capaz de atrair aliados e deter oponentes”. Sozinha, uma pequena vitória é irrelevante. Mas uma série delas é capaz de virar o jogo. “Uma vez que se alcance uma pequena vitória, movimentam-se as forças que favorecem outra pequena vitória”, diz Weick. “Quando se chega a uma solução, o próximo problema possível de resolver frequentemente se torna mais visível. Isso acontece porque novos aliados trazem novas ideias, e velhos oponentes mudam de atitude. Recursos adicionais também fluem para os vencedores, o que significa que se podem tentar vitórias um pouquinho maiores.”
Weick se referia a problemas sociais – crime, drogas, miséria – mas a lógica se aplica a qualquer empresa. Não houve, na era moderna, projeto mais ambicioso do que pisar na Lua. Ele foi fruto de uma meta ousada do governo americano em meio a uma concorrência acirrada com a União Soviética. Mas foi feito um passo de cada vez, uma missão atrás da outra. Até sua etapa culminante, em 20 de julho de 1969, quando o astronauta Neil Armstrong desceu da nave Apolo XI – uma glória que, curiosamente, ele descreveu como “um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade”.

Gênio de papel

O premiado arquiteto Frank Gehry, cujos projetos mais recentes incluem o museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, e a Sala de Concertos Disney, em Los Angeles, costuma começar seus projetos cortando, amassando, dobrando pedaços de papel ou cartolina. Assim consegue, a um custo baixo, avaliar se suas ideias ficam de pé (no caso dele, literalmente). Desse modo, é mais fácil mudar, adaptar, colar, construir – e ter ideias ousadas.
Ideias rápidas

A Pixar, cujo setor artístico é liderado por John Lasseter, desenvolveu ao extremo o método de fazer storyboards. Eles funcionam como rascunhos, para que os desenhistas consigam mostrar suas ideias sem ter de passar por todo o esforço (e custo) de finalizá-las no computador. Com o passar do tempo, a prática só fez aumentar: Vida de Inseto, um dos primeiros filmes da Pixar, teve 27.565 storyboards. Procurando Nemo, 43.536. Ratatouille, 69.562. Wall-E, 98.173.
Ensaia mais, Meirelles

Para finalizar o filme Ensaio sobre a Cegueira, no final de 2007, o diretor Fernando Meirelles (na foto, com Julianne Moore, no set de filmagens) foi forçado a usar a estratégia dos protótipos. Após concluir a quarta versão do longa, convidou um grupo de amigos para assisti-la. “Fui ingênuo ou arrogante a ponto de achar que o filme estivesse quase pronto”, escreveu, no blog Blindness. Ante uma recepção não muito entusiasmada, ele pediu críticas. Aí veio o fogo amigo. “Pelo volume de problemas, me ocorreu organizá-los em ordem alfabética.” Alguns meses depois, na sétima versão, Meirelles mostrou o filme em Toronto, no Canadá, numa sala com 540 pessoas. Na primeira cena de estupro, saíram 16. Mais uma cena forte, e 42 espectadores debandaram. Meirelles resolveu repensar. Até sua apresentação oficial, em Cannes, em maio de 2008, o filme foi alterado em diversos pontos, inclusive na estrutura da narrativa. Ensaio sobre a Cegueira, baseado no livro homônimo de José Saramago, foi visto por 892 mil pessoas e solidificou a carreira internacional de Meirelles.
Quase pronto

Beethoven trabalhava lentamente. Trazia suas ideias na cabeça por um longo tempo e depois batalhava para colocá-las no papel, como se pode ver pelas partituras rasuradas que chegaram até nós. Seus rascunhos revelam que ele refinava e refinava novamente, mudando nota a nota cada fraseado até que adquirisse a qualidade que hoje reconhecemos como beethoviana. O tema do movimento lento da Quinta Sinfonia passou por ao menos uma dúzia de transformações.

Retrô prafrentex

Um dos grandes sucessos recentes da subsidiária brasileira da Whirlpool seguiu a lógica das pequenas apostas. Em 2007, no centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa, em Joinville (SC), um grupo de designers começou a brincar com um frigobar que estava abandonado num canto, inspirados por um modelo antigo (1). Primeiro, um deles pintou a peça de vermelho. Outro colocou-lhe pés palito. Um terceiro pôs pegadores e uma logomarca antigos. Até que passou um executivo da área de marketing, que elogiou o resultado. “Vimos que aquilo podia dar samba”, diz Mario Fioretti, gerente-geral de design e inovação da Whirlpool. Dezoito meses depois, o protótipo (2) levaria ao frigobar Retrô da Brastemp. A brincadeira mudou toda a categoria de frigobares. Até então, eles eram brancos, discretos, feitos para ficar escondidos. Viraram itens de decoração, coloridos, para ficar na sala (3)(4). Seguiram-se modelos com atrativos como porta de vidro e espelhada, iluminação de led e adesivos que dá para trocar. Em janeiro, a empresa lançou uma linha retrô de refrigeradores (5) e fogões (6). “Tudo começou como uma pequena aposta”, diz Fioretti.
Tiro para todo lado

Pressionada pela queda na venda de carros e a entrada no país de vários concorrentes, a Ford do Brasil também recorreu a pequenas apostas, até encontrar o projeto de um de seus maiores sucessos: o EcoSport. “Precisávamos romper com o passado e criar um projeto inovador”, diz Rogelio Golfarb, diretor de Assuntos Corporativos e Comunicação para a Ford na América Latina. De 1997 a 2002, a empresa flertou com várias ideias: um utilitário 1.0 (que estourava no Brasil), uma minivan (que então fazia sucesso na Europa), uma picape de grande porte (tradição da empresa). “Investimos em esboços de diversos tipos”, diz Golfarb. A equipe responsável pelo projeto foi deslocada para um pequeno prédio no complexo da Ford em São Bernardo do Campo (SP). “Fomos segregados”, diz Luc de Ferran, conselheiro da Ford na área de desenvolvimento, que estava à frente da engenharia, na época. Alguns protótipos e modelos do carro, ao lado, mostram como o conceito estava indefinido. “Tateávamos às escuras, fazendo tentativas de acerto e erro”, diz Ferran.
No nono mês de testes, uma cliente sugeriu que a Ford fizesse um jipinho. Pareceu uma ideia capaz de agradar a vários públicos, diz Golfarb. Aí vieram mais tentativas, e mais protótipos, até chegar ao design do EcoSport. No ano que vem, o jipinho deverá ser o primeiro carro da subsidiária brasileira a ser produzido e vendido mundialmente. Uma década após seu lançamento, o EcoSport segue com índices elevados de vendas. No ano passado, foram 43 mil unidades, com 37,5% de participação do mercado de utilitários esportivos.

Treino extra

Rogério Ceni, o goleiro que mais fez gols no mundo, conta que, há duas décadas, costumava chegar três horas adiantado ao treino numa categoria de base do São Paulo. Para matar o tédio, um dia pegou um saco com 20 bolas e começou a chutá-las mirando o travessão. Aos poucos, passou a observar as variações devidas à intensidade e direção do vento, à qualidade do gramado e da bola, à força do chute e sua concentração. “Um dia caiu a ficha de que era mais fácil acertar o gol que o travessão”, diz. Um dia, Telê Santana, técnico do time de 1990 a 1996, apontou jogadores que já tinham sido campeões, e disse: “No começo eles faziam como você, hoje não querem mais treinar além do que eu peço. Saiba que esse treino extra faz a diferença”. Fez. Em 1997, o técnico Muricy Ramalho o elegeu cobrador oficial de faltas. Segundo Ceni, nos seis meses que antecederam sua primeira cobrança, ele bateu 15 mil faltas, uma média de 2,5 mil por mês.
Na terceira tentativa, contra o União São João de Araras, fez o primeiro gol. Depois viriam mais 100. Aos 38 anos, as lesões não lhe permitem treinar tantas cobranças. “Mesmo assim, ainda chego mais cedo para fazer fisioterapia, fortalecimento ou corrida.” Durante o Campeonato Paulista deste ano, Rogério Ceni marcou seis gols, seu recorde no torneio.
De programa em programa

Em 1995, quando estudava na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Romero Rodrigues montou com o colega Ronaldo Takahashi um software para gestão de empresas. “Cobramos R$ 150 por um sistema desenvolvido em quatro meses”, diz. A dupla logo constatou que aquele mercado estava lotado. Um ano depois, com outro colega, Rodrigo Borges, Rodrigues (na foto, na sede do Buscapé) criou um serviço de webmail, num projeto que pretendia conectar centros acadêmicos por meio de uma rede de alta velocidade. Depois vieram as ideias de uma lotérica virtual (havia muitas barreiras legais), de automação residencial (muitos concorrentes) e várias outras. “Nós nos divertíamos pensando nisso.”
A ideia que lhes renderia uma fortuna, o site Buscapé, nasceu de uma observação despretensiosa. Ao fazer uma pesquisa sobre impressoras na internet, Borges não encontrou nada. Nenhum preço, nenhum modelo. Nascia o projeto do primeiro site de comparação de preços em português – e o segundo do mundo.
O primeiro software, criado em quatro meses, levantava os preços das lojas em tabelas do Excel ou em controles de estoque e transferia as informações para o banco de dados do Buscapé. Para isso, porém, eles tinham de instalar um disquete nos computadores das lojas. “Alguns lojistas nos recebiam às gargalhadas, outros desligavam o telefone na nossa cara”, diz. Como a maioria das lojas não queria divulgar seus preços, os sócios desenvolveram o spider, um software mais robusto que faria a varredura dos preços disponíveis na internet. “No início, chegamos a ser ameaçados por advogados de grandes redes varejistas que não queriam aparecer no site.”
O caso mais pitoresco foi o de um executivo que falou que colocaria o andar inteiro do seu departamento jurídico para perseguir o Buscapé. Dois anos depois, quando o site começou a colher receitas com as empresas que pagavam pelos cliques nas suas ofertas, o executivo ainda se recusava a atendê-los. Rodrigues, então, decidiu tirar as informações da rede do Buscapé. No mesmo dia, o executivo ligou com uma nova ameaça. “Iam nos processar se não os colocássemos no ar de novo. Aí senti que tínhamos um grande negócio nas mãos.” Tinham mesmo. Em 2009, aos 31 anos, Rodrigues vendeu 91% das ações do Buscapé para o fundo de private equity sul-africano Naspers, por US$ 342 milhões.

Todo ouvidos

Um dos fundadores da HP, David Packard (à esquerda, ao lado do sócio Bill Hewlett) criou o lendário método de gestão que consistia em andar pelo prédio para encontrar os gerentes e discutir seu trabalho.
O guru é a multidão

Segundo John Donahoe, executivo-chefe do eBay, “as pessoas tendem a achar que os especialistas ou mentores têm todas as respostas, mas o insight está muito mais disperso”.
A sabedoria das ruas

O brasileiro Sérgio Vieira de Mello, um dos principais diplomatas da ONU, falava cinco línguas e era Ph.D. em filosofia pela Sorbonne. Mas um de seus maiores talentos, de acordo com a biografia O Homem Que Queria Salvar o Mundo, da jornalista irlandesa Samantha Power, era coletar respostas ou ideias nos mais variados lugares. “Ele achava mais importante entender a história, o orgulho e os traumas de uma nação do que se informar sobre suas taxas de alfabetização ou perspectivas comerciais.” Na Bósnia, Vieira de Mello recusou o colete blindado. Como os civis não dispunham daquele “luxo”, acreditava que criaria uma barreira com o povo local se saísse às ruas com a proteção. “No Camboja, aprendeu a história do país com os motoristas e intérpretes que trabalhavam na ONU e haviam sobrevivido a um massacre”, diz Samantha. Ao ser designado para sua última missão, sua primeira iniciativa foi fazer um tour de três semanas para ouvir pessoalmente os políticos e líderes que davam as cartas no Iraque e vinham sendo ignorados pelos americanos e ingleses.
Para complementar a matéria, o podcast Pense Pequeno da seção “Por trás da capa”.

