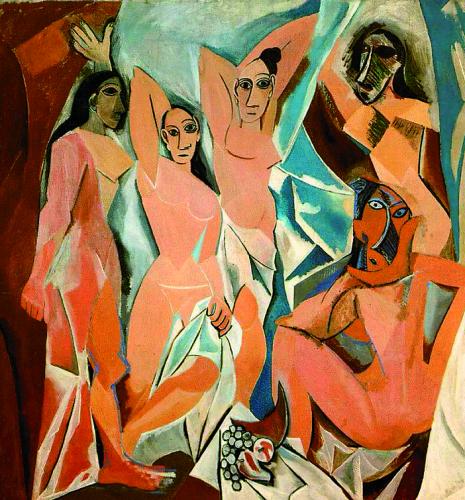SEM MAIS DELONGAS
Esse artigo, da The New Yorker, nos dá um tapa, em cheio, na cara, dois socos na barriga e um peteleco na orelha.
Brilhante explanação sobre a arte humana de procrastinar. E o referido livro, que já está na wish list, parece imperdível.
Vai deixar pra ler depois?
Later
What does procrastination tell us about ourselves?
by James Surowiecki October 11, 2010
Procrastination interests philosophers because of its underlying irrationality.

Some years ago, the economist George Akerlof found himself faced with a simple task: mailing a box of clothes from India, where he was living, to the United States. The clothes belonged to his friend and colleague Joseph Stiglitz, who had left them behind when visiting, so Akerlof was eager to send the box off. But there was a problem. The combination of Indian bureaucracy and what Akerlof called “my own ineptitude in such matters” meant that doing so was going to be a hassle—indeed, he estimated that it would take an entire workday. So he put off dealing with it, week after week. This went on for more than eight months, and it was only shortly before Akerlof himself returned home that he managed to solve his problem: another friend happened to be sending some things back to the U.S., and Akerlof was able to add Stiglitz’s clothes to the shipment. Given the vagaries of intercontinental mail, it’s possible that Akerlof made it back to the States before Stiglitz’s shirts did.
There’s something comforting about this story: even Nobel-winning economists procrastinate! Many of us go through life with an array of undone tasks, large and small, nibbling at our conscience. But Akerlof saw the experience, for all its familiarity, as mysterious. He genuinely intended to send the box to his friend, yet, as he wrote, in a paper called “Procrastination and Obedience” (1991), “each morning for over eight months I woke up and decided that the next morning would be the day to send the Stiglitz box.” He was always about to send the box, but the moment to act never arrived. Akerlof, who became one of the central figures in behavioral economics, came to the realization that procrastination might be more than just a bad habit. He argued that it revealed something important about the limits of rational thinking and that it could teach useful lessons about phenomena as diverse as substance abuse and savings habits. Since his essay was published, the study of procrastination has become a significant field in academia, with philosophers, psychologists, and economists all weighing in.
Academics, who work for long periods in a self-directed fashion, may be especially prone to putting things off: surveys suggest that the vast majority of college students procrastinate, and articles in the literature of procrastination often allude to the author’s own problems with finishing the piece. (This article will be no exception.) But the academic buzz around the subject isn’t just a case of eggheads rationalizing their slothfulness. As various scholars argue in “The Thief of Time,” edited by Chrisoula Andreou and Mark D. White (Oxford; $65)—a collection of essays on procrastination, ranging from the resolutely theoretical to the surprisingly practical—the tendency raises fundamental philosophical and psychological issues. You may have thought, the last time you blew off work on a presentation to watch “How I Met Your Mother,” that you were just slacking. But from another angle you were actually engaging in a practice that illuminates the fluidity of human identity and the complicated relationship human beings have to time. Indeed, one essay, by the economist George Ainslie, a central figure in the study of procrastination, argues that dragging our heels is “as fundamental as the shape of time and could well be called the basic impulse.”
Ainslie is probably right that procrastination is a basic human impulse, but anxiety about it as a serious problem seems to have emerged in the early modern era. The term itself (derived from a Latin word meaning “to put off for tomorrow”) entered the English language in the sixteenth century, and, by the eighteenth, Samuel Johnson was describing it as “one of the general weaknesses” that “prevail to a greater or less degree in every mind,” and lamenting the tendency in himself: “I could not forbear to reproach myself for having so long neglected what was unavoidably to be done, and of which every moment’s idleness increased the difficulty.” And the problem seems to be getting worse all the time. According to Piers Steel, a business professor at the University of Calgary, the percentage of people who admitted to difficulties with procrastination quadrupled between 1978 and 2002. In that light, it’s possible to see procrastination as the quintessential modern problem.
It’s also a surprisingly costly one. Each year, Americans waste hundreds of millions of dollars because they don’t file their taxes on time. The Harvard economist David Laibson has shown that American workers have forgone huge amounts of money in matching 401(k) contributions because they never got around to signing up for a retirement plan. Seventy per cent of patients suffering from glaucoma risk blindness because they don’t use their eyedrops regularly. Procrastination also inflicts major costs on businesses and governments. The recent crisis of the euro was exacerbated by the German government’s dithering, and the decline of the American auto industry, exemplified by the bankruptcy of G.M., was due in part to executives’ penchant for delaying tough decisions. (In Alex Taylor’s recent history of G.M., “Sixty to Zero,” one of the key conclusions is “Procrastination doesn’t pay.”)
Philosophers are interested in procrastination for another reason. It’s a powerful example of what the Greeks called akrasia—doing something against one’s own better judgment. Piers Steel defines procrastination as willingly deferring something even though you expect the delay to make you worse off. In other words, if you’re simply saying “Eat, drink, and be merry, for tomorrow we die,” you’re not really procrastinating. Knowingly delaying because you think that’s the most efficient use of your time doesn’t count, either. The essence of procrastination lies in not doing what you think you should be doing, a mental contortion that surely accounts for the great psychic toll the habit takes on people. This is the perplexing thing about procrastination: although it seems to involve avoiding unpleasant tasks, indulging in it generally doesn’t make people happy. In one study, sixty-five per cent of students surveyed before they started working on a term paper said they would like to avoid procrastinating: they knew both that they wouldn’t do the work on time and that the delay would make them unhappy.
Most of the contributors to the new book agree that this peculiar irrationality stems from our relationship to time—in particular, from a tendency that economists call “hyperbolic discounting.” A two-stage experiment provides a classic illustration: In the first stage, people are offered the choice between a hundred dollars today or a hundred and ten dollars tomorrow; in the second stage, they choose between a hundred dollars a month from now or a hundred and ten dollars a month and a day from now. In substance, the two choices are identical: wait an extra day, get an extra ten bucks. Yet, in the first stage many people choose to take the smaller sum immediately, whereas in the second they prefer to wait one more day and get the extra ten bucks. In other words, hyperbolic discounters are able to make the rational choice when they’re thinking about the future, but, as the present gets closer, short-term considerations overwhelm their long-term goals. A similar phenomenon is at work in an experiment run by a group including the economist George Loewenstein, in which people were asked to pick one movie to watch that night and one to watch at a later date. Not surprisingly, for the movie they wanted to watch immediately, people tended to pick lowbrow comedies and blockbusters, but when asked what movie they wanted to watch later they were more likely to pick serious, important films. The problem, of course, is that when the time comes to watch the serious movie, another frothy one will often seem more appealing. This is why Netflix queues are filled with movies that never get watched: our responsible selves put “Hotel Rwanda” and “The Seventh Seal” in our queue, but when the time comes we end up in front of a rerun of “The Hangover.”
The lesson of these experiments is not that people are shortsighted or shallow but that their preferences aren’t consistent over time. We want to watch the Bergman masterpiece, to give ourselves enough time to write the report properly, to set aside money for retirement. But our desires shift as the long run becomes the short run.
Why does this happen? One common answer is ignorance. Socrates believed that akrasia was, strictly speaking, impossible, since we could not want what is bad for us; if we act against our own interests, it must be because we don’t know what’s right. Loewenstein, similarly, is inclined to see the procrastinator as led astray by the “visceral” rewards of the present. As the nineteenth-century Scottish economist John Rae put it, “The prospects of future good, which future years may hold on us, seem at such a moment dull and dubious, and are apt to be slighted, for objects on which the daylight is falling strongly, and showing us in all their freshness just within our grasp.” Loewenstein also suggests that our memory for the intensity of visceral rewards is deficient: when we put off preparing for that meeting by telling ourselves that we’ll do it tomorrow, we fail to take into account that tomorrow the temptation to put off work will be just as strong.
Ignorance might also affect procrastination through what the social scientist Jon Elster calls “the planning fallacy.” Elster thinks that people underestimate the time “it will take them to complete a given task, partly because they fail to take account of how long it has taken them to complete similar projects in the past and partly because they rely on smooth scenarios in which accidents or unforeseen problems never occur.” When I was writing this piece, for instance, I had to take my car into the shop, I had to take two unanticipated trips, a family member fell ill, and so on. Each of these events was, strictly speaking, unexpected, and each took time away from my work. But they were really just the kinds of problems you predictably have to deal with in everyday life. Pretending I wouldn’t have any interruptions to my work was a typical illustration of the planning fallacy.